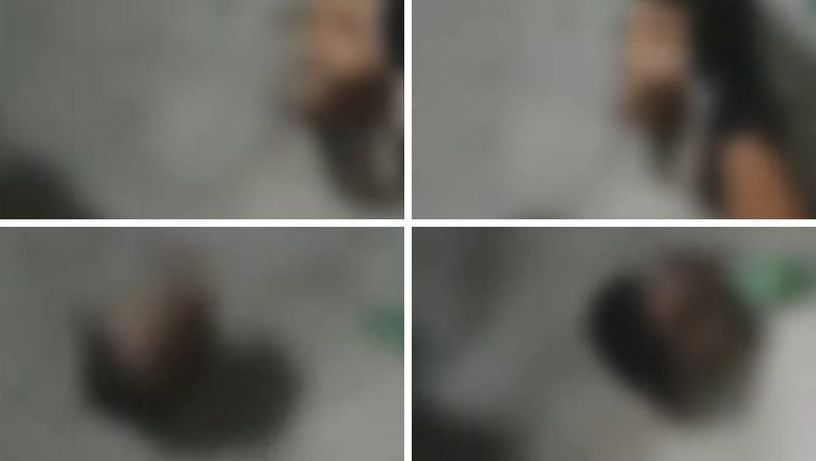Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Força dos tambores de Salvador fizeram sua fama como cidade percussiva ao redor do globo
Blocos afros, afoxés, mestres e mestras são responsáveis por perpetuar os toques afro-baianos até os dias de hoje
-
Luiza Gonçalves
Publicado em 29 de março de 2024 às 05:07

“Foi extraordinário. Do ponto de vista profissional participar dessa negociação com artistas que já tinham uma magnitude, que admiramos, numa grande produção, foi outro nível. E ainda por cima sediando tudo no nosso território, com a nossa música”, relembra Claudia Santos. Em 1995, a professora e hoje diretora do Bloco Afro Bankoma, integrava o departamento de relações internacionais do Olodum e foi responsável por acompanhar e traduzir a comunicação durante as filmagens em Salvador do videoclipe They Don’t Care About Us, estrelado por Michael Jackson e dirigido por Spike Lee.
Quase 30 anos depois, o clipe é considerado um marco na história da música percussiva baiana por ter projetado o samba reggae nacional e internacionalmente, atraindo a atração mundial para o som dos tambores produzidos em Salvador. Mas, o rei do pop não foi a primeira estrela internacional a querer explorar as sonoridades afro-baianas. Em 1991, o cantor Paul Simon já havia visitado e tocado com o Olodum. E mais: durante os anos 90 o cantor de reggae jamaicano Jimmy Cliff já apreciava e incorporava os toques em seus trabalhos, convidando percussionistas baianos como Jorjão Bafafé, Gabi Guedes e Lazzo Matumbi para integrar sua banda.
Em Salvador, a percussão, fundada nos toques vindos com povos africanos, foi conservada nas religiões e perpetuada pelos afoxés, blocos afros, mestres e mestras. Gerações de músicos estabelecem um laço umbilical da percussão a identidade cultural da cidade, passando por momentos de alto fluxo de intercâmbios, que espalharam a percussão baiana no mundo e atraíram novas influências e figuras para a musicalidade que se renova continuamente.
O boom dos blocos afros
Desde o surgimento do Ilê Aiyê, em 1974, os blocos afros sempre utilizaram elementos afro-religiosos e da música afrobrasileira para se conectar com ritmos da diáspora africana e com a história da negritude. Uma internacionalização que já podia ser vista nos temas das músicas e nas influências de movimentos políticos como o Black Power e o Pan Africanismo, aponta a professora Cláudia Santos. Com o passar dos anos, a popularização dos blocos rendeu parcerias, gravação de discos, encontros para ensinar e discutir a percussão, contato com artistas internacionais e algumas viagens para o exterior. Entretanto, as décadas de 1990 e 2000 se destacam por massificarem essa projeção, fazendo com que a música produzida nos blocos conquistasse o mundo.
“Eu cheguei profissionalmente no Olodum em 94 e ele já vinha de uma fase de grande repercussão dos temas como Faraó, dos festivais Femadum e, com essa consolidação do samba reggae, aumentam as incursões internacionais, a percussão começa a sair com mais força. Isso acontece também por conta de figuras como Mestre Jackson, Mestre Prego, Negrinho do Samba, que contribuíram para pensar essa diáspora e entender o Olodum como parte dela”, conta Claudia Santos.
Ao todo são mais de 50 países visitados, dentre eles Egito, Panamá e Japão. Turnês, shows, workshops, participações em festivais, como o de Montreal, e em eventos de cunho sociocultural. Para o percussionista Mestre Memeu, que está há 40 anos no Olodum, um momento marcante dessas viagens era o desafio de ensinar o toque do samba reggae: “A dinâmica é complexa, mas uma coisa é certa: tem que ir com o coração, tem que sentir os tambores. Tudo bem que depois você pode pegar uma partitura, escrever as notas, mas a batida do tambor você tem que sentir”, defende.

Quando tinha 15 anos, um evento mudou para sempre a vida José Mário Bezerra da Silva: o convite para integrar a primeira turnê do Ilê Aiyê na Europa, em 1994. Vindo da banda Erê, formada por jovens do Ilê, era a primeira vez que o adolescente saia do país na viagem que, para ele, fincou seu destino junto aos tambores. Trinta anos depois, agora Mestre Mário Pan, ele revela a importância que as ações sociais promovidas pelo Ilê tiveram na sua vida - enquanto um jovem negro periférico- e lhe proporcionaram intercâmbios, cursos e o crescimento de sua carreira como compositor, arranjador e percussionista.
Mário acredita que os blocos afro passaram por um momento de forte consolidação nos anos 90, que trouxe ao Ilê convites para tocar em eventos culturais e manifestações no cinco continentes, como o Fórum Social Mundial e o Festival de Arte Negra, no Senegal, e em eventos esportivos em Paris, Nova Iorque e Xangai, que somam mais de 35 destinos. Marcado por essas experiências, ele decide lançar, em 2008, um projeto que promove o intercâmbio da percussão em terras baianas, o Tambores do Mundo. A iniciativa promove a imersão cultural de pessoas de diversos países durante duas semanas em Salvador, para oficinas de percussão com músicos baianos, resultando em dois dias de desfile no Carnaval. “O importante dos Tambores do Mundo é provocar essa troca trazendo pessoas para cá e criando o entendimento que o bloco afro é ação social, política, inclusão e educação. Mostrar a Bahia e a sua potencialidade cultural com respeito às tradições”, defende.

Percussionistas que transitam
O fluxo dos tambores soteropolitanos pelo mundo foi conduzido por músicos que dedicaram suas vidas à pesquisa, arte, inovação, ensino e a reverência ao ancestral. Ubiratan Marques, Bira Reis, Letieres Leite, Monica Millet, Sergio Otanazetra, Mestre Jackson, Neguinho do Samba, Carlinhos Brown. São inúmeros nomes que marcaram essa história.
“Eu comecei no fundo do quintal do terreiro de vovó, tocando candomblé nos atabaques. Ketu, angola, ijexá, essa foi minha base”. Jorjão Bafafé teve seu primeiro contato com os tambores no Terreiro de Jagum, no Engenho Velho de Brotas, onde aprendeu aos 8 anos percussão com os Alabês, e que se estendeu em mais de 40 anos de contribuições na música soteropolitana. Foi um dos fundadores do Afoxé Badauê em 1978, participou do Araketu e criou, em 1982, o Bloco Afro Ókánbí. Tocou na Banda Furta Cor e ao lado de artistas como Jimmy Cliff.
Por volta dos 20 anos, a percussão apareceu como inclinação profissional e uma inquietação de pesquisa para Jorjão. Ele se jogava em cada show, palestra e LP de black music que apresentasse sonoridades percussivas e que conseguia ter acesso. “Eu levava o caderno e anotava tudo. Nem sabia para onde, mas eu estava me preparando”, brinca. E o hábito seguiu por anos. Lembra de ter ficado encantado ao ver pessoalmente o pernambucano Naná Vasconcelos e, no vídeo cassete, o mexicano Santana, sonhando com tambores Conga que ainda nem existiam no Brasil. Nas escadarias do Pelourinho, integrava encontros de percussão com outros entusiastas para debater e fazer música.
“Eu pude trazer comigo um pouco do sentimento de cada artista e isso me motiva até hoje”, afirma o mestre. Durante o período que esteve na Banda Araketu, a partir de 1987, e nos três anos em turnê com Jimmy Cliff, Jorjão tocou em mais de 40 países, e o mais importante para ele, dialogando com músicos, alunos e mestres. Aprendendo e ensinando.
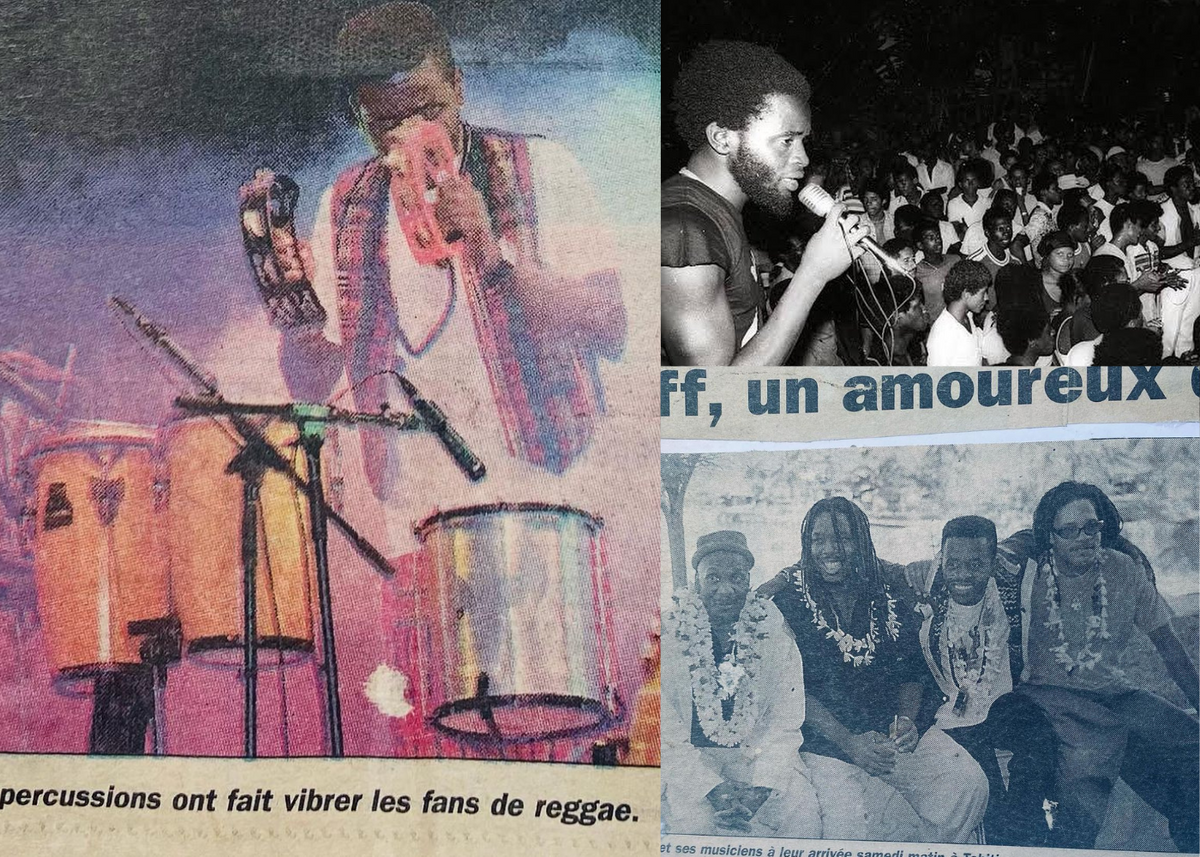
“Foi explorando e pesquisando ao longo dos anos, não só os meus ritmos, mas os ritmos de outros países da África, da Jamaica, dos EUA, da América Latina, procurando a música negra, que eu fui aparecendo no meio desse celeiro de música que é a nossa Bahia. Quando estive no Senegal, Jamaica, Estados Unidos, eu fui entendendo a importância da origem do tambor e me identificando nesses tambores diferentes, Vi que na origem disso tudo, a essência é uma só. Para mim não teve dificuldade nenhuma em tocar com muita gente, o ritmo é um só. Só que enquanto eles tocavam groove, eu tocava Ketu, Angola, Ijexá, a nossa bandeira do Brasil”, sintetiza Jorjão Bafafé.
Mestre Jorjão Bafafé
Gabi Guedes acredita que sua sorte estava posta na percussão quando nasceu filho de uma mãe do recôncavo, e assim como Jorjão, muito próximo de um terreiro de Candomblé. Em casa ele batucava ritmos de samba ensinados pela cachoeirana em baldes, panelas e ouvia os tambores do Gantois. Após uma visita ao axé, ele se encantou com a sonoridade e as energias dos orixás, o que fez ele adentrar o universo religioso, o estudo da percussão ainda pré-adolescente e integrar grupos folclóricos e de samba. Durante os anos 80, Gabi começou a trabalhar como percussionista em aulas de dança no TCA e, mais tarde, como sonoplasta.
Foi quando ele conheceu a professora Emília Biancardi - etnomusicóloga fundadora do grupo folclórico Viva Bahia - integrando sua orquestra e realizando suas primeiras apresentações no exterior, e o coreógrafo Carlos Moraes, para quem compôs a trilha de dois espetáculos. Gabi acompanhou músicos como Margareth Menezes, Gerônimo e Jimmy Cliff and The Wailers, sendo percussionista da Oneness Band por oito anos: “Eu sempre estive tocando os toques do candomblé. Era onde eu podia expressar minha cultura dentro disso. E foi tão bacana porque ele [Jimmy Cliff] nunca reclamou, sempre foi uma coisa que eu apresentei e ele chegou e abriu o coração e isso vai dando força para gente”, relata.

Em mais de 10 anos se apresentando e ensinando os toques da percussão baiana pelo Japão, Hawai, Austrália, Gabi acredita que o universo dos quilombos e terreiros apresentado em seus toques encantava as pessoas. Parte por ser uma novidade, comparado ao que era tradicionalmente mostrado da música brasileira, e também por criar possibilidades de novas misturas: “As pessoas conseguiam ver a beleza e isso me deu oportunidades, fazendo eu entender mais sobre meu universo rítmico, ir a lugares e conhecer pessoas maravilhosas. Sempre procurei manter essa rítmica dos terreiros de candomblé com todo respeito e passar isso para as pessoas com propriedade, não como uma coisa de virtuose, mas do sentimento para contemplar, para saudar”, enfatiza.
Atualmente, ele segue o mesmo caminho, seja na percussão da Orkesta Rumpillezz ou na direção do projeto musical Pradarrum, que homenageia o legado dos alabês e das mães do Gantois. “Pradarrum significa saudar, reverenciar, agradecer, é essa palavra viva no terreiro de candomblé”, reitera.
Mestre Gabi Guedes
O que vem, o que fica
Com percussão se movimentando em seus intercâmbios, surgem festivais, projetos e novas figuras que propagam a interação cultural a partir da musicalidade dos tambores. O percussionista Giba Gonçalves é um desses agentes. Nascido no Curuzu, ele passou por blocos afro como Ilê Aiyê, Malê deBalê e Muzenza. Giba se mudou para Bruxelas em 1988, após ingressar no grupo Brasil Tropical e, posteriormente, para França na Banda Kaoma. Em 1997, ele criou em Paris, o grupo de percussão Batalá, que propõe o ensino do samba reggae pelo mundo.
“O Batalá nasce de uma necessidade porque tudo na Europa é muito para dentro e já na Bahia não. Timbalada, Olodum, Ilê, todos começaram na rua e eu vivi muito isso. Então eu comecei a sentir essa necessidade de criar alguma coisa e pensei ‘vou montar um grupo e vou chamar pra fazer na rua”. E a gente foi. Escolhemos um parque, começamos a tocar e com meses já tinha 200 pessoas”, relembra. Com mais de 20 anos de atuação, Giba afirma que manter o laço com Salvador, voltando o retorno financeiro do projeto para a cidade e provocando seus integrantes a conhecê-la, é fundamental para a realização do Batalá. “Não adianta você ter o projeto lá na Europa sem mostrar a origem de onde vem e as pessoas que fazem", garante. Hoje, o Batalá se espalhou e rufa os tambores em 48 cidades de 20 países diferentes.

Por aqui, a fama de Salvador como cidade percussiva universal motivou a socióloga Beth Cayres a idealizar um encontro que reunia a Bahia, o Brasil e o Mundo em sua música e tambores: o Panorama Percussivo Mundial (Percpan). Iniciado em 1994, o festival é dedicado ao encontro de músicos que exploram e dialogam com a percussão em seus trabalhos.
Curador do Percpan de 2011 até 2017, o produtor musical Alê Siqueira, que já trabalhou com músicos baianos como Zé Luiz Nascimento, Letieres Leite e Carlinhos Brown, a quem atribui seu aprendizado mais profundo sobre música percussiva, conta que, além da seleção dos artistas, uma das coisas mais importantes para ele no festival era propor ensaios coletivos entre as atrações. Esses encontros aprofundaram a celebração através da música percussiva e a identificação entre os artistas.
“Acho que um elemento que faz essas conexões são essas claves, essas matrizes que permeiam toda a música popular. Por isso que dá certo às vezes um grupo cubano tocar com um grupo baiano, porque as matrizes rítmicas são muito semelhantes. Então acho que um ponto de ligação que é estrutural e estrutura a música popular como um todo, do mundo todo, dado que todas essas matrizes partiram da África. As estruturas celulares, o DNA rítmico da música do mundo é o mesmo”, analisa o produtor.
Para Doudou Rose Thioune, o diálogo entre a música de Salvador e de Dakar, no Senegal, foi um desses encontros que bateu certo. O percussionista originário de duas grandes famílias de músicos e griots senegaleses chegou à Bahia pela primeira vez em 2004, a convite do Percpan. Desde então, ele já ensinou lugares como Pracatum e Escola Aberta do Candeal, escolhendo Salvador para dar seguimento ao movimento “Kalama”, criado por ele a partir do diálogo sociocultural entre Brasil e África.
“Eu morei um tempo na Itália e lá tive muito contato com percussionistas baianos. Fiz amizades, vi espetáculos e percebi que o jeito que eles tocavam, o ritmo, tocava meu coração. Nos 20 anos que estou aqui aprendi muito e vou fazendo esse diálogo entre africano e baiano. A Bahia é a África, tem a raiz, tem o ritmo, tem a conexão”, diz Doudou.

O futuro da percussão
“O tambor tem uma condição ancestral muito poderosa de ser esse portal comunicacional, vozes e linguagens que se traduzem nos ritmos”, pensa Viviam Caroline. No momento em que o samba reggae ganhava o mundo ela se encontrou nos tambores e, ainda adolescent, deixou ser guiada por eles, assumindo uma responsabilidade que carrega até hoje: pensar o lugar da mulher nessa percussão.
Começou aos 16 anos como diretora, junto com Neguinho do Samba, do que se tornaria a Didá. Após 28 anos na banda, ela decide se dedicar a novos projetos e em 2022 surge Yaya Muxima, um novo coletivo de mulheres que também perpetua o samba reggae, mas que pretende fazer a comunicação com outros ritmos e musicalidades. Em 2023, ela fez sua primeira turnê como percussionista nos EUA, passando por alguns estados, ensinando e montando grupos feminino por lá também. Para ela, passar percussão em suas atuações é propagar uma relação de respeito e coletividade: “Eu acredito que a percussão de Salvador pode se organizar ainda mais. Com autonomia financeira, com pesquisa e valorizando cada vez mais sua grandiosidade. Essa juventude que vem é muito habilidosa, mas é preciso relembrar a importância de ter elegância, bom senso e fundamento para tudo”, expõe Viviam.

A influência de bandas como a Didá, A Mulherada e ter convivido de perto com percussionistas como Lenynha Oliveira, Monica Millet, Rose Ratinha, Dedê Fatumma, Cristina Mendonça e Titi, fizeram Érica Sá ver que era possível ocupar espaços na música até então muito restrito aos homens. Atualmente ela é percussionista da Orquestra Afrosinfônica, da Banda Negra Cor, Timbaladies e é professora de percussão do Neojiba.
Curiosa e plural por natureza, como afirma ser todo percussionista, acredita que uma das potencialidades que a percussão ganhou ao longo dos anos foi poder transitar em vários universos: “No começo dos meus estudos eu ouvia muito que eu teria que escolher a rua ou a academia. Mas eu não conseguia pensar do mesmo jeito. Eram experiências diferentes e eu queria aproveitar todas o quanto eu pudesse”, afirma. Hoje, com 19 anos desenvolvendo arte, ensinando, estudando e produzindo percussão, ela não se arrepende.
No caso de Thiago Trad, a academia foi a porta de entrada “oficial” para entender melhor todas as movimentações que lhe interessavam, mas que estavam distantes do universo do rock, onde começou na música. Cursou Percussão Sinfônica na escola de música da UFBA, com anos de pesquisa e familiarização, e bebeu direto fonte: “Gabi Guedes, com quem fiz inúmeras aulas, um dos maiores músicos do mundo em atividade”, declara sem titubear.
Assim como os demais entrevistados até aqui, as palavras que aparecem para Trad, quando questionado sobre o futuro da percussão, são referência, legado, pesquisa e inovação. “A música percussiva da Bahia é uma fusão de ritmos ancestrais em constante diálogo com o contemporâneo. Acredito que muito dessa “modernidade“ vem de criadores que estavam à frente do seu tempo, como o mestre Neguinho do Samba, Ramiro Musotto, Carlinhos Brown, e tantos outros”.

Seja hoje em dia, na rítmica do pagodão, na mistura com eletrônico ou, lá atrás, quando Jorjão pesquisava os LP de música americana e Gabi era um dos primeiros percussionistas a acompanhar aulas de ballet, a percussão é uma arte à frente de seu tempo e sempre se inova. Mas não se perde, ela é bem fundada. Tem legado, tem passado e tem futuro.
O projeto especial Som Salvador é uma realização do Jornal Correio, com patrocínio da Unipar, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Wilson Sons e Salvador Shopping.
*Com orientação da editora Mariana Rios