Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Na Bahia, criança transgênero de 6 anos será o mais jovem em centro de acompanhamento
Pouca idade não limita a noção da própria identidade; conheça histórias
-
Fernanda Santana
Publicado em 12 de junho de 2022 às 11:00
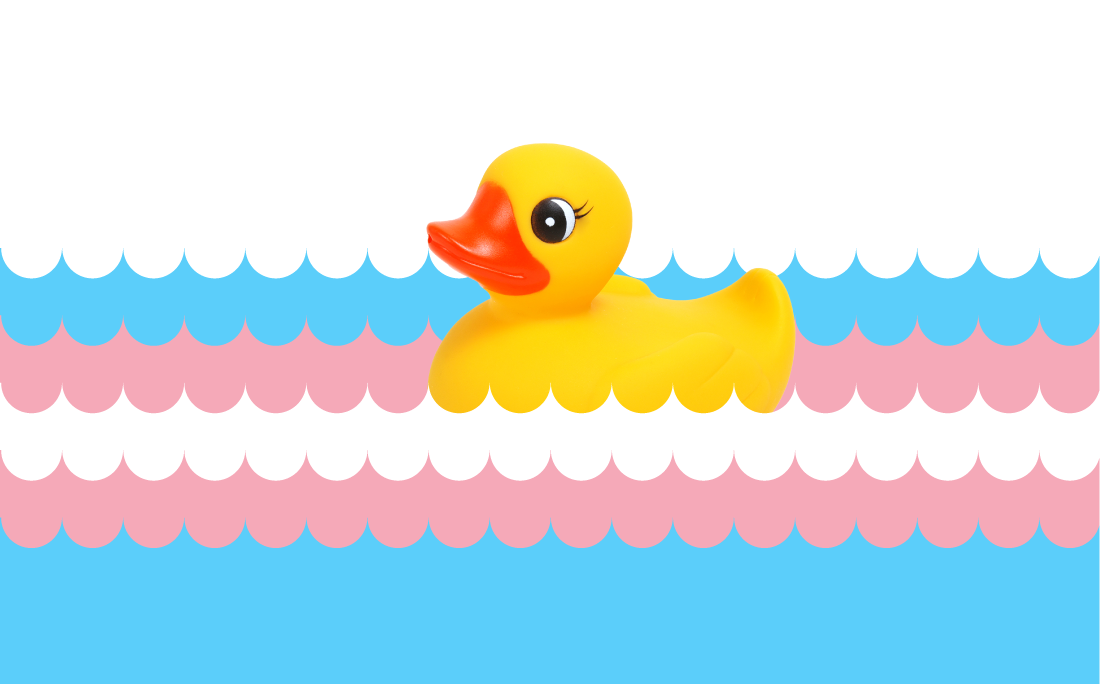
Em dezembro do ano passado, João, 6 anos, disse aos pais com a simplicidade típica da idade: “Eu sou um menino e quero me chamar João”. Ele tinha certeza na voz: eu sou, eu quero me chamar. Em breve, João será o menino transgênero mais jovem acompanhado pelo Ambulatório Transexualizador do Hospital das Clínicas (HC), em Salvador. A família aguarda na fila.
Até a tarde de 7 de dezembro de 2021, João questionava por que Deus o tinha feito como ele era. A idade traz uma fase de descobertas. É quando crianças transgênero – que não se identificam com o gênero designado no nascimento – percebem que o corpo delas não mudará porque desejam e começam a sofrer por isso.
Na Bahia, o atendimento dessas crianças na rede pública está concentrado em dois espaços: o Ambulatório Transexualizador do HC, voltado ao atendimento de pessoas em fase da puberdade; e o Ambulatório Multidisciplinar em Saúde de Travestis e Transexuais do Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, apto a receber pessoas na faixa a partir dos 10.
João e a família moram em Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu, a 288 quilômetros dos dois locais. Quando não está na escola, ele gosta de andar de skate, brincar com animais (é apaixonado pelo cachorro, gato e jabuti que cria em casa) ou assistir jogos de videogame no youtube. “Meu filho vai viver o inteiro. A gente tem direito constitucional a isso. Não cabe a ninguém impor que vivamos a metade”, diz a advogada Alyne Santiago, 42, mãe de João. O pai, Anderson, pensa igual.Os dois anseiam pelo dia em que o filho será acompanhado por equipes de saúde. O que eles esperam é uma compreensão integral da saúde, que considere corpo, mente e hábitos e prepare para o futuro. “Sabemos que um longo caminho começará. Queremos profissionais que nos auxiliem”, diz Alyne.
João ainda não é alfabetizado, mas nunca errou a concordância nominal quando fala de si mesmo – sempre flexiona as palavras no masculino. “A partir de hoje você é João”, responderam a mãe e o pai do menino na tarde em que o filho revelou-se ao mundo.
A busca por acompanhamento
Quando João se apresentou aos pais, Alyne e Anderson procuraram especialistas em transgeneridade infantil, do ponto de vista pediátrico e psicoterapêutico. A procura por equipes de saúde, no entanto, não significa que eles tenham um olhar patologizante sobre o filho.
Pelo contrário: querem estar prontos para auxiliá-lo nas mudanças que o tempo causará nele, sobretudo em um país que agride quem não corresponde aos padrões impostos e onde mais pessoas são vítimas letais de transfobia no mundo.“Precisamos, pais e mães, estar cercados de especialistas. Mas para isso é preciso ter muita confiança no profissional”, diz Alyne. Embora tenha procurado por especialistas nas proximidades, ela não foi longe nas buscas, o que reflete a falta de profissionais preparados para acompanhar crianças trans. O termo “tratamento” não cabe, uma vez que a palavra pressupõe cura e transgeneridade não é doença, mas um aspecto da diversidade humana. Na semana passada, Alyne localizou uma psicóloga no estado de Minas Gerais.“Quando falamos de crianças transgênero, precisamos falar de saúde de uma forma holística, integral. Nossa proposta é muito embasada nisso. Não é fácil de sentir fora dos padrões que nos impõem e os reflexos disso vão aparecer na saúde delas”, diz Melyssa Chaves, que é coordenadora do Grupo Mães da Resistência na Bahia.Na fase em que João está, não há permissão para as intervenções físicas. No Ambulatório do Hospital das Clínicas, o atendimento é voltado para a endocrinologia e o garoto e a família terão um acolhimento inicial. Antes do pequeno João, o mais jovem trans atendido na unidade tinha sido uma criança de 9 anos. Crianças também tem percepções sobre gênero (Foto: Marku Spiske/Pexels) Para menores de 16 anos, a única possibilidade de intervenções físicas é o bloqueio da puberdade, quando essa fase é iniciada. O procedimento impede, por meio de uma substância chamada acetato de leuprolida, a liberação de hormônios femininos em meninos transgênero e vise-versa.
A intervenção pode ser interrompida, sem danos, em caso de desistência. A hormonização - uso de hormônios masculinos ou femininos com supervisão de endocrinologistas - é autorizada somente para maiores de 16 anos, segundo resolução de Conselho Federal de Medicina (CFM).
Já o Ambulatório do Cedap atende pessoas a partir de 10 anos com equipes de pediatras, endocrinologistas, psicólogos infantis e nutricionistas. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) não informou se há crianças em atendimento atualmente.
Crianças de 2 anos percebem gênero a partir do entorno
Aos 2 anos, crianças tem noções sobre o feminino e o masculino com base no que são ensinadas. Se, nessa idade, receberem a ordem de buscar uma roupa masculina, é provável que retornem com uma blusa ou uma bermuda nas mãos. Caso o pedido seja por uma roupa feminina, a lógica é que tirem do guarda-roupa um vestido ou outro objeto associado a mulheres.“Quando a gente nasce, a identificação de gênero considera uma parte do corpo – o genital. Uma parte do corpo não define uma pessoa. O que falo não é 'ah, porque Betinha acha'. É ciência e os profissionais precisam se despir de preconceito. Se não conseguem, que encaminhem para outra pessoa”, afirma a pediatra e também psicoterapeuta Elizabeth Fernandes.Betinha, como é mais conhecida a uma pernambucana para quem não há medicina e psicoterapia sem humanidade, gosta da espontaneidade das crianças. Desde os anos 2000, trabalha com elas e se tornou referência no atendimento a jovens transgêneros.
Conforme crescem, algumas crianças percebem que sua própria identidade de gênero não corresponde àquela atribuída a elas com base na genitália. A partir daí, podem, por exemplo, demonstrar sofrimento em relação ao órgão. Entre os 6 e 7 anos, o entendimento desse desacordo, quando existe, é evidenciado.“É quando muitas delas vão ser castigadas em falas equivocadas como ‘não pode isso, é de menina ou de menino, e vão surgir com perguntas como – por que esse castigo, por que Deus me fez assim?”, completa Betinha.A percepção sobre a transgeneridade na infância, segundo o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, perpassa desde o desacordo com a vestimenta, mudanças comportamentais e afirmações sobre a própria identidade de gênero - por meio de frases como as citadas por Betinha. "Por que você pediu para eu nascer menina", perguntava João à mãe.
A psicoterapeuta-médica Betinha acompanha crianças espalhadas pelo Brasil e é um dos dois profissionais voluntários no grupo Mães da Resistência, que reúne 60 mães de pessoas LGBTQIA+ na Bahia. A mãe e o pai de João conversaram com ela, por vídeo. “[Transgeneridade] Não é influência de ninguém, é entendimento de si. Os pais precisam ouvir e conversar não é legitimar. Procurar ajuda de profissionais não quer dizer que tenha algo errado, mas que é preciso escutar”, explica a coordenadora do Comitê de Pediatria de Pernambuco.O assunto, alavancado pelas discussões de gênero, despontou como questão científica na década de 1960. Por que, afinal, há pessoas que se identificam com o gênero designado e outras, não?
A questão não tem uma resposta. Os estudos existentes mostram um entremeado que envolve fatores genéticos, epigenéticos e psíquicos (nestes, inclusos o momento sócio-histórico e a subjetividade da própria pessoa).
Uma pesquisa inédita realizada em todas as regiões do Brasil, pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), mostrou, no ano passado, que dois a cada 100 brasileiros são transgênero ou não binários – não se identificam nem no masculino, nem no feminino.
O sofrimento psíquico
Criança, J. rejeitava padrões femininos impostos. Negava os vestidos, desprezava as barbies e se incomodava com “qualquer coisa remotamente feminina”. Hoje, aos 16 e em hormonização, ele recorda que “se vestir de menina” era como ter uma segunda camada sobre a pele que o pertencia – a de um menino.“Não tinha noção desse termo transgênero, não conhecia. Mas eu era menino. Em jogos, eu até colocava um nome de menino”, lembra.O desconforto levou J. a pesquisas na internet. Talvez alguém também se sentisse como ele. Aos 11 anos, assistiu um filme que o marcou: “Meu nome é Ray”. No filme, o protagonista é um homem trans que se prepara para uma cirurgia de redesignação sexual.“Hoje, eu percebo que nem gosto desse filme, mas foi o primeiro que eu vi que abordou um menino trans”.Aos 14, J. comunicou à mãe que era um menino. Ela já sabia. “Eu sempre vi um menino. As pessoas me criticavam pelas roupas neutras, diziam: ‘Depois não reclame’. Eu não estou reclamando agora, imagine”, ri Letícia Linhares, 54 anos, gerente de RH. Trecho de 'Meu Nome é Ray', filme que marcou J., sobre a história de um menino transgênero (Foto: Divulgação) O filho já tinha apresentado quadro depressivo e, até janeiro deste ano, ingeria um antidepressivo por dia. Já não era a criança de antes: cresceu um adolescente tímido, com comportamentos que preocupavam a mãe.
Sem encontrar lugar para ser, o sofrimento psíquico pode ser uma consequência imediata para crianças e jovens trans. Para crescerem bem, as crianças precisam se sentir seguras e amparadas.“Todas as taxas de acometimento de transtornos mentais nessa população são maiores que na população cisgênero (que se identigfica com o gênero designado no nascimento). risco de morte por suicídio chega a ser dez vez maiorr”, explica a psiquiatra infantil Ana Paola Robatto.É para ela e Stella Benitez, professoras de Medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba), que são encaminhados, quando necessário, jovens atendidos pelo Ambulatório Transexualizador. A dupla atua na ala de Psiquiatria da Infância e Adolescência do HC. A pessoa mais jovem que já entrou na sala de Robatto foi uma menina trans de 11 anos. Nenhuma criança está, atualmente, em atendimento.
O acompanhamento começa com a “psicoeducacao”, em casos de transtornos psíquicos. “Todos nós sofremos momentos de estresse, o estresse normal da vida. Mas imagine uma criança ser submetida a um estressa que ela não tem maturidade para enfrentar nem rede de apoio”, sugere Robatto.
Esse estresse é chamado de “tóxico” e gera no corpo problemas no sistema nervoso e alterações do sistema imunológico da pessoa.“É fisiopatológico. O estresse tóxico leva a liberações de substâncias – como adrenalina e cortisol – que tornam o organismo mais vulnerável”, explica a especialista.A realidade de viver uma vida que não era a sua faziam de João uma criança sempre introspectiva e triste – como aconteceu com o adolescente J., o filho de Letícia. Depois de se apresentar aos pais, a introspeção do menino foi substituída pela alegria.
Como qualquer criança, João às vezes assusta os pais com estripulias. “Ele gosta de dar cambalhota. Se ele se machuca, eu falo: ‘tá doendo né, meu filho?”. O menino, mesmo que doa, sempre responde: “Não tá doendo nada, mãe”.








