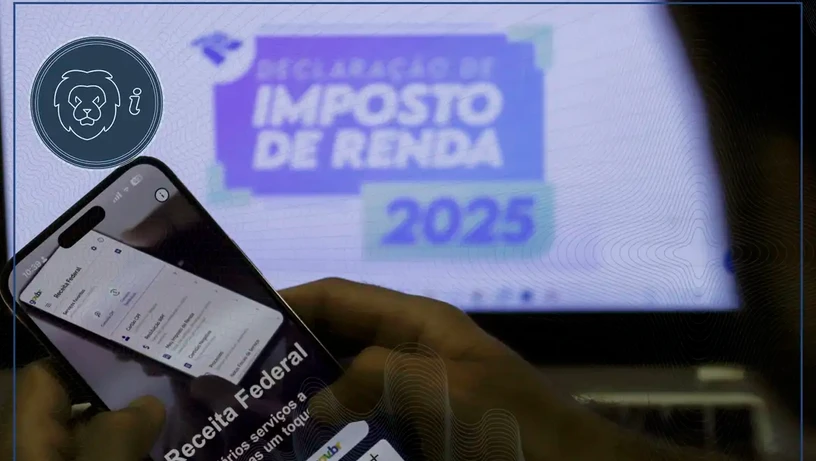Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Covid-19, liberdade e cidadão ideal!
por André Lemos
-
D
-
Da Redação
Publicado em 29 de agosto de 2020 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

A lição da covid não é o isolamento, mas a dependência do outro. A pandemia nos mostra que a liberdade não é propriedade privada e que passamos por outros para existir, apontando assim para um modelo do cidadão-ideal!
Para viver, o vírus necessita de um corpo hospedeiro, achar uma célula para se reproduzir. Ele precisa, consequentemente, que fiquemos juntos para que ele possa continua o seu percurso enquanto máquina biológica de mera reprodução dele mesmo. Ele não se alimenta, não respira, apenas quer se replicar. A pandemia é resultado de um organismo que rompe todas as fronteiras (geopolíticas, econômicas, raciais, sociais...) e, por isso, a escritora japonesa Yoko Tawada o coloca (quase) como um símbolo de um “cidadão ideal”. Em artigo no Le Monde (25/07/2020) ela diz:
“Se ninguém morresse de coronavírus, eu chegaria ao ponto de elogiá-lo como uma metáfora para o cidadão ideal do mundo, que cruza facilmente as fronteiras nacionais e religiosas, que se transforma constantemente para se adaptar a um novo ambiente e se mantém vivo graças ao contato humano, às discussões intensas, aos concertos, às leituras ou ao teatro. Que gosta de visitar avós e amigos doentes. Que não faz mal às plantas, não mata animais, não contamina nem o ar nem a água ” (tradução minha).
Mas ele nos mata. Nossa única saída até agora (sem tratamento direto e sem vacina) é o isolamento social e o uso de instrumentos de proteção ao contato com o mundo dos humanos e dos objetos (máscaras e lavar as mãos a cada toque em qualquer coisa). O vírus pousa na superfície que nos conecta, afirma Judith Butler em artigo para o dossiê “Pandemia Crítica” da editora N-1 (ver Instagram). O paradoxo dessa doença é que, ao nos isolar, o vírus nos faz sentir irremediavelmente vinculado à todas as superfícies do mundo, como ele mesmo é dependente do hospedeiro.
É nesse isolamento que percebemos as ausências e nelas podemos reconhecer a importância daquilo que falta. Dependemos dos objetos para viver (a comida que chega, o produto do mercado, o corrimão da escada, a maçaneta da porta, a materialidade dos transportes...), e dependemos também de outros vivos (plantas, bactérias, outros animais...), e dos humanos que nos rodeiam (familiares e amigos; trabalhadores de limpeza, entrega, transporte, informação, saúde, educação...).
Pequenas mudanças já são sentidas: o desejo de ficar mais próximo dos verdadeiros amigos; a valorização do comércio local; o crescimento mundial por procura de alternativas de trabalho; busca por formas de moradia e vida fora dos grande centros urbanos; escolha por transportes mais independentes e para curtas distâncias (bicicleta, andar)...
Se isso vai durar ou se é só o medo, só saberemos depois que essa pandemia passar, se passar.
Mas uma coisa é certa, estamos sentimos mais do que nunca que só vivemos, e só viveremos no futuro, fomentando formas de ligação mais solidárias. Dependemos, agora mais do que nunca, de solidariedade. A palavra vem do francês solidarité, que tem raiz etimológica no latim solidus. Ser solidário é tornar as relações mais sólidas, é consolidar, é nos fortalecer no entrelaçamento a que estamos destinados como seres vivos. Para existirmos temos que estar em solidariedade.
O reconhecimento da real dimensão de uma interdependência não é de hoje, mas parecia velada, submersa na desatenção à concretude da terra que habitamos - como diz Bruno Latour no seu último livro, precisamos aprender a aterrissar. Muitos têm apontado para esse entrelaçamento, traduzido pela aceitação de que ser é “ser enquanto um outro” (Philippe Descola, Bruno Latour, Donna Haraway, Isabelle Stengers, Karen Barad, Annamarie Mol, Emanuele Coccia, Juduth Butler, Tristan Garcia...). O novo coronavírus só tornou as coisas mais evidentes. O desafio, portanto, em plena expansão dos perigos do Antropoceno e da pandemia, é o de reconhecer solidariedade, ou parentesco com todas as coisas (como diz Haraway), o que coloca em cena, o problema da liberdade.
No Brasil, a pandemia parece estar acabando pela força da negação e da ideia de que a liberdade é uma propriedade privada, do indivíduo, e que cada um tem o direito de fazer o que quiser. Vemos pessoas nos bares, nas praias, nos shoppings aglutinando-se sem máscaras. Aqueles que estão em isolamento, utilizando as EPI, sentem-se idiotas, ou diferenciados, o que dá no mesmo. Os que não respeitam o pedido das autoridades sanitárias (isolamento e máscaras) acham que essa imposição agride a sua liberdade.
Pensar a liberdade como posse pode ser mortal. É o que afirma o psicanalista Massimo Recalcati (La Repubblica, 13/03/2020). Para ele a liberdade não é propriedade de um ego, já que ela se inscreve sempre na ligação entre as pessoas! Ela não existe no isolamento. Para ser livre há de haver o constrangimento do outro, ou a própria ideia de ser livre desaparece. A liberdade requer, consequentemente, um outro e para isso impõem-se responsabilidade, empatia, respeito... solidariedade. Tudo o que está em falta hoje, nesse país da negação e da estupidez.
Podemos até passar por essa pandemia, à revelia da nossa inanição e incompetência (mais de 110 mil mortos e mais de 3 milhões de infectados, sem política central inteligente de enfrentamento), por acaso, mas será imprescindível reconhecer essa situação, se se quer evitar novas catástrofes no futuro. Enquanto a liberdade for pensada como “propriedade”, não haverá saída e o modelo desse “cidadão ideal” continuará sendo apenas isso: uma ideia.
Embora a covid-19 esteja nos isolando, a lição que devemos tirar é a do reconhecimento da liberdade como um bem coletivo, ou ela não existe, e que só vivemos entrelaçados às superfícies do mundo, presos a outros (humanos e não humanos). Caso contrário, será difícil frear os malefícios dessa e das futuras pandemias.André Lemos é Professor Titular da Faculdade de Comunicação da UFBa e Pesquisador do CNPq