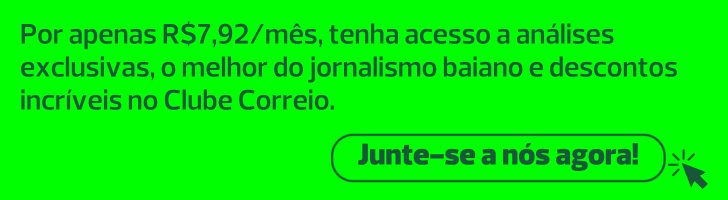Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
De músicos a costureiras, caixeiros e personagens políticos na Bahia: Revista de História da UFBA publica edição especial com artigos de novos pesquisadores
A revista, de iniciativa discente, publica artigos científicos de História e áreas afins em fluxo contínuo, de graduandos e pós-graduandos
-
Clarissa Pacheco
Publicado em 2 de junho de 2024 às 05:00
Os documentos que ajudaram a legitimar a imortalidade de Castro Alves, o “Poeta dos Escravos”, têm a assinatura, literalmente, de uma dama do Império: Dona Adelaide de Castro Alves Guimarães. A mulher que nasceu em Salvador em 1873 e se tornou influente entre os círculos políticos da República, entretanto, é muito mais conhecida pelas suas ligações com a biografia do irmão, o poeta Castro Alves – a quem chamava carinhosamente de Cecéo –, do que pelo próprio papel como poetisa e como uma importante abolicionista brasileira, que costumava receber membros das elites políticas em seu palacete, na Soledade.
Alguns dos caminhos percorridos por Dona Adelaide, casada com o jornalista e político Augusto Álvares Guimarães, aparecem no artigo ‘Rastros de uma dama do Império na República: a atuação de Adelaide de Castro Alves Guimarães no circuito intelectual e político brasileiro (1896-1937)’, de Telma Ferreira de Carvalho, publicado na recente edição especial da Revista de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA), disponível gratuitamente no site da publicação.
A revista, de iniciativa discente, publica artigos científicos de História e áreas afins em fluxo contínuo, de graduandos e pós-graduandos, da UFBA e de outras instituições de ensino superior. O objetivo é divulgar a produção historiográfica e contribuir com a difusão, diversidade e democratização da produção acadêmica, promovendo o acesso horizontal, livre e gratuito às produções.
Na última edição, disponível no site https://periodicos.ufba.br/index.php/rhufba, foram publicados sete artigos resultantes do I Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, em maio do ano passado. O evento contou com estudiosos de três linhas de pesquisa e com uma conferência inédita do professor João José Reis, importante nome dos estudos da escravidão no Brasil, intitulada ‘Manoel Florêncio do Espírito Santo: um professor negro na Bahia oitocentista (1836-1896)’.
Dos anais do Seminário, nasceram artigos como o que trata dos rastros de Dona Adelaide nos círculos políticos da República, mas que se debruçam, também, sobre o trabalho de homens e mulheres negras em Salvador no século XIX, ativos em diversos setores: caixeiros, alfaiates, costureiras e músicos. É deles, os músicos e músicas, que trata o trabalho de Marcele da Silva Moreira: ‘Músicos negros no tecido social de Salvador na primeira metade do século XIX’.
O texto analisa a experiência de indivíduos negros, crioulos e pardos que conseguiram viver do próprio talento como músicos em Salvador. Eram esses homens e mulheres que produziam a sonoridade das ruas da cidade nos Oitocentos e que também garantiam a execução da música sacra de “dentro das Igrejas”, em missas, festas católicas e ritos fúnebres – não sem causar, de certo modo, algum incômodo entre os viajantes estrangeiros que passavam pela cidade e registravam no papel o que seus olhos e ouvidos conseguiam captar.
Ana Victória da Silva Borges também escreve sobre trabalhadores e trabalhadoras de Salvador no século XIX, mas se dedica ao universo da costura, que enfileirava anúncios nos jornais da cidade sobre a venda de artigos necessários ao ofício, em casas comerciais, ou à própria comercialização de artigos de vestimenta prontos ou sob encomenda. Os anúncios, observa Ana Victória, costumavam ligar o nome dos homens à alfaiataria e o das mulheres à costura e ao bordado, marcando certa divisão sexual do trabalho no setor.
O século XIX também é o palco da pesquisa de Adriano Ferreira de Sousa, autor do artigo ‘Labor dependente: os caixeiros e as múltiplas formas de exploração de mão de obra na Salvador oitocentista (1850-1889)’, que trata da exploração do trabalho livre ou dito livre dos caixeiros pelos comerciantes de Salvador, além das complexas relações de trabalho entre eles, e entre os caixeiros e trabalhadores escravizados.
Isso porque, aponta Adriano, a burguesia ascendente do período buscava impelir as classes subalternas ao trabalho produtivo, não apenas para livrar as ruas dos mendigos, os que chamavam de vadios e os órfãos e menores desvalidos, mas também para aumentar a mão de obra disponível. Esse universo era, portanto, marcado pela exploração e pelos arranjos de trabalho dependente, como mostra o artigo de Adriano.
Menores e desvalidos também aparecem, desta vez em posição de protagonismo, no artigo de José Pedro Carrano da Silva. O trabalho é intitulado ‘Reflexões e apontamentos para a pesquisa de ingênuos e menores desvalidos nos mundos do trabalho das últimas décadas do século XIX’ e busca pensar direções e apontamentos para pesquisas relacionadas a esses grupos, sobretudo levando em conta novas fontes de informações, como documentos do judiciário, periódicos e teses acadêmicas de Direito e Medicina.
Um personagem conhecido dos baianos – o etnólogo e médico legista Nina Rodrigues – é o tema do trabalho de Rafael Matheus de Jesus da Silva e Dagoberto José Fonseca. O artigo ‘Tragam-me a cabeça de Antônio Conselheiro: As teorias raciais em Nina Rodrigues e o fetichismo na Justiça Criminal’ trata justamente das produções teóricas de Nina Rodrigues, maranhense radicado na Bahia que fomentou as bases da criminologia no Brasil no final do século XIX e se preocupou em identificar as características de um ‘criminoso nato’, partindo de preceitos raciais. A despeito de suas ideias, Nina Rodrigues dá nome ao Instituto Médico Legal de Salvador, homenagem contestada em 2022 pela Defensoria Pública do Estado.
Um último personagem abordado neste número da revista é o reverendo presbiteriano Jaime Wright, tema do trabalho de Felipe Moreira Barboza Duccini, doutorando em História pelo PPGH-UFBA, intitulado ‘Entre a cruz e a espada: trajetória de vida de Jaime Wright’. O artigo estuda a trajetória de vida do reverendo dentro de um contexto político, social e religioso durante a ditadura militar brasileira, entre 1964 e 1985.
Wright era defensor dos direitos humanos e participou da fundação e/ou coordenação de instituições e projetos como o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul, o Conselho Latino-Americano de Igrejas, a Coordenadoria Ecumênica de Serviços e o projeto Brasil Nunca Mais.
Atuou fortemente em São Paulo, ao lado do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, mas teve uma atuação, também, no interior da Bahia, como mostra o trabalho de Duccini: viveu em Ponte Nova (atual Wagner), onde dirigiu o Instituto de Educação Presbiteriano, e depois transferiu-se para Caetité, em 1964, no mesmo ano do golpe militar, onde dirigiu a Igreja Presbiteriana da cidade.
A Revista de História da UFBA existe desde 2009 e, de lá para cá, já publicou artigos distribuídos em 14 números. O acesso e a publicação são gratuitos.
Clarissa Pacheco é jornalista, mestranda em História pelo PPGH-UFBA e integra o conselho editorial da Revista