Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Como medo das mudanças climáticas pode gerar ansiedade, depressão e insônia
Confira relatos de cientistas, ativistas e ambientalistas
-
Carolina Cerqueira
Publicado em 23 de março de 2024 às 05:00
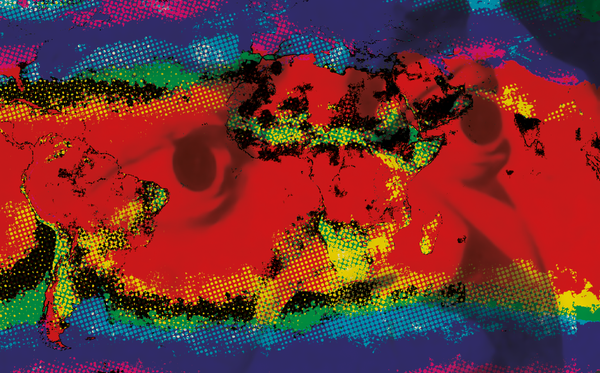
“Daqui a uns 20, 30 anos, as pessoas vão derreter feito lesmas na calçada”. Imagine escutar essa frase e um turbilhão de outras do gênero, diariamente, em estudos, pesquisas, relatórios, levantamentos e notícias sobre as consequências das mudanças climáticas. A frase foi dita pelo escritor Ailton Krenak na mesa Colapso climático e o Antropoceno, em um evento da Agência Pública na última semana. Krenak é um dos milhões de nomes – alguns famosos e outros completamente anônimos - de cientistas, ambientalistas e ativistas que se preocupam com o meio ambiente e lutam por ele, mas que, mesmo numerosos, se sentem sozinhos.
Angústia e frustração são as palavras mais proferidas quando tentam colocar para fora o que acontece dentro. É o preço que se paga pelo conhecimento. Quanto mais cientes do que está acontecendo com o planeta, mais sofrem com os impactos psicológicos. Assusta ainda mais saber que o tal fim do mundo pode ser lento e doloroso... e já começou. O termo que resume a sensação é “ecoansiedade”, que também pode aparecer na versão “ansiedade climática”.
O impacto das mudanças climáticas na saúde mental, de acordo com o US Global Research Program, passa por estresse, ansiedade, depressão, aflição, sentimento de perda, tensão nas relações sociais, abuso de substâncias e ainda transtornos do estresse pós-traumático. Não para por aí. Também há impacto na saúde comunitária, provocando aumento das agressões interpessoais, aumento da violência e criminalidade, aumento da instabilidade social e redução da coesão social.
“Eco-anxiety” em inglês, a palavra foi incorporada pelo dicionário de Oxford em 2021 e é definida pela American Psychological Association (APA) como "medo crônico da catástrofe ambiental". Provocando estudos desde a década de 1990, promete atingir cada vez mais pessoas nos próximos anos. Trata-se da pressa de resolver um problema que é urgente, somada à certeza de que não será capaz de resolvê-lo sozinho, somada à percepção de que quem tem mais força e poder atrapalha muito mais do que ajuda, somada a um medo incontrolável do futuro.
Gota d’água
Foi por conta das consequências do resultado dessa equação que o climatologista Alexandre Costa, 54, professor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), chocou a plateia lotada da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, em setembro de 2014. Ele projetou slides que ilustravam o ritmo acelerado do aquecimento global e abriu para perguntas. Uma senhora questionou: “Como você consegue dormir e ser feliz todos os dias?”. Alexandre abriu a mochila, sacou duas caixas de remédio e exibiu os antidepressivos como quem saca uma arma. “Jogando dopado”, respondeu.

O nome do seu canal no YouTube é providencial. Através dos vídeos que publica no “O que você faria se soubesse o que eu sei?”, Alexandre canaliza sua angústia e faz a sua parte. A militância, aliada à ajuda profissional, o fez voltar aos eixos depois do diagnóstico de depressão profunda. A ferida não sumiu, mas ele aprendeu a lidar melhor com ela.
Pouco antes do episódio marcante que foi parar até na Revista Piauí, aconteceu a virada de chave. Depois de ler um artigo científico que comprovava a acidificação dos oceanos, Alexandre chorou sozinho em seu escritório. “Foi ali que senti pela primeira vez o peso do ‘é aqui, é agora’. Depois daquele dia, foi ladeira abaixo”, lembra. Foi a gota d’água no copo já cheio.
Todos os dias, ele recebe uma enxurrada de informações como: as concentrações de gases de efeito estufa estão nos níveis mais altos em 2 milhões de anos; a década entre 2011 e 2020 foi a mais quente já registrada na história; oceanos batem recorde de elevação; primeira região de clima semelhante ao de deserto é identificada no Brasil.
Ele sente que vive numa bolha e que só quem está dentro dela tem consciência do que está acontecendo ou, de fato, parece se importar. “Pararam de falar sobre o tema e as soluções não chegavam. Chegavam as desinformações e o negacionismo. As pessoas estavam falando que aquecimento global não existe, que CO2 é bom para as plantas, que se desmatar nasce de novo. Senti que estávamos andando para trás”, conta Alexandre.
Até hoje, ele convive com um questionamento, que diz martelar em sua cabeça e provocar uma genuína dor: “Como pode ter gente tão má? Como pode ter gente tão mesquinha, profundamente perversa e pervertida ao ponto de sabotar ações de resolução ou minimização desse problema? Como pode ter gente defendendo o seu dinheiro e ligando o foda-se para o planeta e tudo que há nele em defesa do seu lucro pessoal?”, desabafa o climatologista.
Complexo de Deus
Assim como Alexandre, Kamila Camilo, 32, transforma o meio ambiente em tema de terapia. Sempre reserva um tempo das sessões para falar sobre as questões climáticas e o sentimento de impotência que a persegue, além de debater o tema com os amigos envolvidos na causa. Kamila é ativista de justiça climática e diretora do Instituto Oyá, que apoia empresas que “estão dispostas a construir uma sociedade economicamente saudável, socialmente justa e sustentável”.

O cenário faz surgir uma nova demanda para a qual psicólogos e psiquiatras, segundo o médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) Emilio Abelama Neto, não estão preparados. “A maior parte dos profissionais tem pouco contato com o tema. Em alguns países da Europa, há um grau de contato maior, mas, no Brasil, muitos nunca nem ouviram falar de ecoansiedade”, destaca.
Kamila conta que também tem o suporte da terapia para lidar com o que chama de “complexo de Deus”. “É a vontade de tirar a dor do mundo. Mas por mais que eu tenha força de ação, os problemas são tão grandes e sistêmicos que me sinto pequena, sinto como se não fosse nem uma engrenagem porque a engrenagem ainda se move e move as demais”, desabafa.
Mas ela segue fazendo a sua parte. No trabalho, começa o dia fazendo uma ronda nas discussões, notícias, relatórios e decisões políticas da agenda climática. Precisa estar ciente de tudo e garantir que o objetivo da organização, que é “servir ao propósito de adiar o fim do mundo”, esteja sendo cumprido.

O sentimento vira culpa. “Saber que a minha casa em uma área privilegiada de São Paulo não vai alagar numa enchente e as dos meus amigos vão, me faz me sentir culpada. Eu recebo diariamente notícias de amigos que estão em risco, que estão sendo expulsos de territórios nos quais o garimpo chegou ou que estão sendo ameaçados de morte. Muitas vezes eu não posso fazer nada e a culpa é aterrorizante”, acrescenta Kamila.
Ela diz se sentir impotente diante da força das grandes corporações e do poder público. “Quem somos nós? Quem sou eu nesse lugar todo? Onde a minha voz importa?”, questiona a ativista. Diante do cenário, Kamila tomou a decisão de não ter filhos. “Como eu vou trazer uma pessoa ao mundo para ela não conseguir respirar e precisar disputar água?”, desabafa, com os olhos marejados.
Peso da juventude
A reversão do cenário é confiada aos jovens, vistos como ‘o futuro do país’. A matemática é simples: a responsabilização equivocada se transforma em um peso quase impossível de carregar e a geração da esperança, ao invés de aproveitar a juventude no presente, se desespera com o que a aguarda no futuro. É por isso que a ecoansiedade atinge principalmente crianças e adolescentes.
Um estudo feito em 2021 em São Paulo, Salvador e Itaparica pelos pesquisadores Debora Tseng Chou e Emilio Abelama Neto ouviu 50 jovens entre 5 e 18 anos. A pesquisa fez parte de um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sobre emoções relacionadas ao estado do planeta. Segundo os pesquisadores, a parcela dos jovens ouvidos que eram engajados com a causa ambiental citaram medo, desesperança, culpa, tensão, pânico e dificuldade para dormir.
“A relação desses estados psicológicos com transtornos mentais ainda é uma incipiente nos estudos científicos porque vale ressaltar que ecoansiedade não é um transtorno mental, mas sim um sofrimento, uma resposta adaptativa a uma situação complexa marcada por incertezas e ameaças. Porém, o transtorno de ansiedade generalizada e os episódios depressivos são quadros que potencialmente guardam alguma relação com o termo”, coloca Emilio Neto.
A coordenadora de comunicação da organização de liderança jovem Engajamundo, Thalia Silva, 21, admite que tem se afastado das notícias para evitar a ansiedade e que luta diariamente para não deixar cair seu nível de otimismo, ignorando as falas constantes de colegas, amigos e familiares de “não tem mais jeito”. “Na semana passada, quando os governantes de Parauapebas, no Pará, onde eu vivo, foram para o Senado pautar a expansão da mineração em áreas protegidas, eu chorei por dias, me sentindo completamente impotente”, lembra.

Ela começou o ativismo aos 14 anos e, apesar de lutar para que os jovens sejam ouvidos e possam participar das decisões políticas sobre o clima, tem ciência das consequências. “A questão é que a gente sente que está lutando sozinho e sabe que sozinho não pode mudar o mundo. Entender isso é doloroso”, diz ela, que também é coordenadora de relacionamento político do Conselho Nacional de Juventudes pelo Clima e Meio Ambiente (Conjuclima).
A estudante do curso de Ciências Socioambientais da PUC-SP e voluntária do Greenpeace Brasil Marcela Amorim, 23, chorou quando soube das consequências das chuvas em Petrópolis (RJ) em 2022. Foram mais de 170 mortos por conta do volume de um mês inteiro que ficou concentrado em um único dia, fazendo a água chegar ao nível do primeiro andar dos prédios. “Meus amigos que moram lá contavam que, quando a água desceu, os corpos começaram a aparecer”, lembra.

A bióloga e ativista socioambiental Carolina Borges, 25, trabalha, de Salvador, como analista de parcerias no movimento Amazônia de Pé, que luta pela proteção da Amazônia e seus povos a partir da mobilização social. Ela diz receber diariamente denúncias e pedidos de ajuda de povos indígenas e comunidades quilombolas e ribeirinhas. “A maior angústia é ver que as pessoas não estão dando a importância devida. Se a gente continuar nesse ritmo, só vai piorar. Onde vamos parar? É muito frustrante”, compartilha.

Super-heróis
O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo, 47, também recebe constantemente pedidos de ajuda ao órgão, que atua diretamente com as consequências das fortes chuvas, como deslizamento de terra e desabamento de imóveis. “Quando eu chego em um local em que já aconteceu um deslizamento de terra ou que está sob risco de acontecer, as pessoas olham para o colete e parece que ele é a capa do Clark Kent; elas confiam na gente”, diz.
Em um cenário de chuvas cada vez mais intensas e temperaturas cada vez mais elevadas, o medo de que os esforços do poder público não consigam fazer frente às mudanças climáticas é real. “Antes eu tinha um mês caótico, depois três meses. Agora, vivemos sob tensão durante o ano todo. Até Carnaval com fortes chuvas a gente está tendo e, no final de 2023, foram 44 árvores caídas por conta das rajadas de ventos”, ressalta.
A pergunta que o persegue é: “Como é que eu posso descansar?”. “A família reclama, os amigos mandam eu cuidar da minha saúde. Até já me deram o apelido de Sosthenes Mais Cedo, num trocadilho com o meu nome, porque eu estou sempre ligado. Mas faço isso por dedicação mesmo, porque me sinto responsável pelas vidas dessas pessoas”, conta.
Ilka Gonçalves, 44, é médica veterinária do Grad Brasil, grupo que faz resgates de animais em desastres ambientais, e também diz se sentir um pouco super-heroína diante dos olhos da população dos locais onde atua. “Quando chego, eles me olham com olhares de esperança”, diz ela, que mora em Salvador e atuou no resgate de animais nas fortes chuvas no sul da Bahia em 2021. Todos os resgates são impactantes para ela, mas alguns são capazes de escancarar feridas abertas.
“O maior impacto que tive foi no Pantanal, quando fui acompanhar as queimadas em 2022. Vi muitos animais mortos, desnutridos, desidratados, com dificuldade respiratória. A gota d’água foi quando vi uma iguana e um quati atropelados. Como as pessoas, no meio de um parque ecológico, com animais lutando para sobreviver, não têm o menor cuidado e, ao invés de ajudar, atrapalham? Me senti péssima por não ter conseguido salvar a vida deles e comecei a chorar”, lembra.
Quando o pensamento de que está enxugando gelo toma conta, Ilka tenta focar na diferença que está fazendo na vida de cada animal e suas respectivas famílias. “Pode ser pouco, pode não ser suficiente, mas já dá uma sensação boa. Procuro fazer a diferença que eu posso fazer e, a cada vez que eu volto dos resgates, me sinto uma pessoa melhor. Ver a felicidade no olhar daqueles que eu salvo é o meu gás para seguir em frente”, finaliza.








